Por uma pedagogia do olhar: qual o papel dos negros na fotografia?
- 26 de nov. de 2019
- 8 min de leitura
Atualizado: 19 de mar. de 2020
Nesta terceira reportagem do Novembro Negro, do Retruco, o jornalista Rostand Tiago traz a figura de Kayo Ferreira, através de uma entrevista em primeira pessoa, como personagem central de uma discussão sobre o papel do negro na fotografia.
Kayo Ferreira tem 28 anos e vem, desde 2014, fazendo um trabalho fotográfico intenso dentro dos terreiros de Candomblé e Jurema. Mora desde sempre no Alto Santa Terezinha, onde milita pelo coletivo Fala Alto, com ações políticas dentro da comunidade. Atualmente estuda fotografia em uma universidade particular para formalizar seu trabalho de anos e conseguir mais oportunidades. Sua obra fez parte das exposições Olharxs Negros sobre a Jurema Sagrada e Afrografia, na qual ministrou a oficina “Por uma pedagogia do olhar: dissecando as imagens”, ao lado de Karla Fagundes.
“Eu ainda hoje às vezes digo timidamente que sou fotógrafo”

O preto de favela pode até tirar foto, mas até ele se reconhecer como fotógrafo, é um caminho louco. Eu ainda hoje às vezes digo timidamente que sou fotógrafo. Se enxergar enquanto artista é complicado quando a referência de quem sempre tá expondo e chegando lá é uma galera branca, endinheirada. Viajava em cinema, sétima arte, essas paradas, mas nunca me imaginei fazendo. Equipamento é caro. Tem gente que faz uma besteira e o pai dá uma câmera fuderosa para brincar. Ainda tô pagando os parcelamentos de meus equipamentos de trabalho que levei quatro anos para comprar, mas hoje sou fotógrafo sim. Sou porque os meus e os que vieram antes de mim precisam de imagens que são negadas há muito tempo ou feitas sem responsabilidade, sob o olhar do exótico.
Minha fotografia puxa para um lado mais documental e está dentro dos terreiros e das festas da Jurema. São espaços que sempre vi por registros de uma galera gringa, que faz a foto e vai embora. Não sei quais são as preocupações deles no retorno que a exposição daquelas pessoas vai gerar ou em como os de fora da religião vão lidar com essas imagens. Não sei o que pensa Pierre Verger depois de fazer as fotos de iniciação no Candomblé ou de um cara que chega, fotografa e vai embora para a França, sem saber se a casa de alguém foi apedrejada por um evangélico fanático. Aquilo ali não é folclore, é vivência, é o dia a dia.
Fotos: Kayo Ferreira
“Nós sabemos o que mostrar e como mostrar”
Acho importante ser uma pessoa negra fazendo esses registros, que tenha intimidade e uma vivência interna. Gente que sabe onde pisar. Nós sabemos o que mostrar e como mostrar. Sabemos que se tem algo muito íntimo rolando, como fazer um registro que não seja tão explícito. A fotografia é isso, pensar antes de fazer o clique. Nesses espaços, eu já pensava nesse clique muito antes de imaginar que estaria fazendo fotografia. Então há o diálogo da minha vontade de fotografar com o desejo de mostrar pessoas importantes que se esconderam por muito tempo e resgatar as histórias e as memórias que ultrapassam as fronteiras dos terreiros.
Se hoje a fotografia ainda tem seu elitismo, no passado era três vezes mais. A imagem nossa e de nossos ancestrais é negada. Ter uma foto era ter dinheiro, o que significava ser branco. Ao negro, o lugar era do retrato era do exótico, do estranho, do outro.
Pisando nas primeiras vezes por lá, vi que há retratos nas paredes de antepassados, antigos sacerdotes, mas também tem muita gente que fica só na memória. Se hoje a fotografia ainda tem seu elitismo, no passado era três vezes mais. A imagem nossa e de nossos ancestrais é negada. Ter uma foto era ter dinheiro, o que significava ser branco. Ao negro, o lugar era do retrato era do exótico, do estranho, do outro.
Aprendi que não só a imagem é negada, mas, com o tempo, a própria memória também é. Minha avó materna é muito católica, não quer nem saber dessas coisas, mas o avô dela fazia umas rezas, assim como seu irmão. Do lado paterno, minha avó sempre teve um pé dentro, com seu altar, o Preto Velho no cantinho, o copo d’água com a vela, sem nunca se assumir. Sempre quis saber o que era aquilo, mas a curiosidade era negada. A curiosidade do fruto para o santo, do doce no Cosme e Damião, dia do meu aniversário. Fui aprendendo sozinho, crescendo e andando.
Mas uma certa vivência do catolicismo possibilitou os primeiros passos nessa caminhada. O trabalho de Dom Helder, a teologia da libertação, Frei Beto e, em especial, o padre Geraldo, que atuava aqui no Alto Santa Terezinha. Minha avó falava como ele, além de ir atrás de recursos para comprar terreno e dar casa para o povo, também levava a comunidade para passeatas, como as contra o FMI. São poucos hoje os padres que metem as caras assim. Foi dentro desse espírito mais libertário do cristianismo que minha mãe pôde crescer e ser a primeira filha a sair de casa, a que concluiu o ensino médio e conseguiu fazer o magistério. A questionadora da família. Em um rolê desses de comprar roupa no final de ano, ela me deu uma camisa com a imagem de Che Guevara e as coisas ficaram loucas a partir dali.
‘“Ó, essa camisa é de uma revolucionário, visse?”, ela disse. Não sabia qual era o contexto, o porquê e tal. Aí eu parei e porra, se eu for andar com a camisa do cara, a turma vai perguntar quem é e eu não vou saber, só sabia que era revolucionário e cubano. Fui no sebo lá no centro e comprei a biografia dele, daquela coleção da Martins Claret do autor por ele mesmo. Cinco conto. Vi que o cara não era cubano, era argentino, mas também era machista, véi. O cara tão massa e machista. Levou um tempo pra me ligar que não era machista, era marxista e descobri que tinha um cara chamado Marx. Fui atrás também, consegui um Manifesto Comunista, muito científico e com termo muito acadêmico para um pirraia de 14 anos. Mas compreendi muita coisa, da exploração do homem pelo homem e a semente da militância tava plantada.
Estudando no centro, comecei a encontrar a parte prática disso tudo que eu tava lendo. 2005, aumento das passagens, Jarbas no Governo, Meira no comando do Choque e o quebra na cidade. A bike de som convocava a gente na frente do colégio e eu tava indo lá, somar. Fui conhecendo alguns outros jovens companheiros e conseguimos eleger nossa chapa no grêmio do colégio. A ideia que tem de grêmio é de organizar festa, mas a gente era de organizar festa não. Umas manifestações quando alguma obra do colégio atrasava, fazer ofício e ameaçar botar fogo em banheiro químico que a prefeitura mandava, rolava, mas festa não. Conseguimos a admiração de alguns e a rejeição de outros.
Foi no mesmo período em que comecei o curso de vídeo no projeto Oi Kabum, na segunda turma. Meu irmão já tinha feito um curso de design lá e se tornou educador da instituição. Aprendi técnicas de filmagem, edição e me encaminhava para o núcleo de produção de lá, onde alguns alunos começavam a trabalhar na área, primeiros passos de uma carreira. Mas o compromisso com a política, com os corres de reunião, deu a brecha que o sistema queria. Tínhamos que faltar e pelas faltas, a linha de frente do grêmio foi reprovada no segundo ano. O horário das aulas ia chocar com os do núcleo de produção, não ia rolar.
Ou eu saía da militância, ou ia a pé para a escola
As coisas ficaram puxadas, tinha rompido em casa e minha família disse que não ia ajudar com a passagem. Ou eu saía da militância, ou ia a pé para a escola. Comecei a ir andando do Alto para o centro, às vezes alguns amigos pulavam a catraca na Joana Bezerra para me dar o dinheiro da passagem, fortaleceram demais. Um tio me arrumou uma bike véia, folgada e sem freio, até hoje pedalo por causa desses perrengues. Terminei o colégio, fui trabalhar de carteiro, namorar, aproveitar um pouquinho a pouca grana. Passei também um tempo parado e, depois da promessa do núcleo de produção da Oi Kabum, fui parar no telemarketing da Oi normal mesmo.
Já tinha meio que desistido desse corre de foto e vídeo, mas decidi que ia juntar um dinheiro na Contax para comprar uns equipamentos, principalmente quando pintou uma viagem para meu irmão aos Estados Unidos, para um trampo que ele foi convidado pelo Consulado Americano. Peguei um empréstimo, minha mãe ainda botou uma beirinha e caiu um bendito e inesperado PIS. Rolou, uma T3i, com a lente do kit e uma 75-300, começando a me reaproximar da fotografia.
Fiz fotos nos atos de 2013 e fui convidado para cobrir uma ocupação em Nossa Senhora do Ó, lá em Ipojuca. Era a militância abrindo a porta para a fotografia. Numa suspensão que levei no trabalho, ia ficar dois dias lá, que se tornaram dez, quinze. E tome atestado, falta, suspensão. A galera confiava em mim e gostava da confiança em ter alguém registrando tudo aquilo e as possíveis repressões, como um filtro para uma ação truculenta, causando um temor, o que demandava também um autocuidado meu. Acabou que a gente foi despejado da terra e eu levei uma justa causa.
Mas a partir desse trabalho, a galera arrumou um trabalho para mim nas eleições de 2014. Trabalhei com esse candidato e ele abraçava as pautas dos povos tradicionais, com diálogo direto com as lideranças religiosas do Candomblé e da Jurema. Nesse período, visitei todas as casas e terreiros da região, de Igarassu a Zumbi do Pacheco. Ali comecei a ser provocado sobre tudo aquilo que falei da negação ou do lugar exótico da imagem do ancestral. Ali também foi meu gancho para migrar de cabeça na fotografia, vendo e ouvindo tudo sem ninguém me chamando para contar. E ainda tirei em três meses o que eu ia receber em um ano e meio na Contax.
Nesse corre, também comecei a ver uma galera na fotografia em que conseguia ver minha história nelas. Gente que também ficava escutando que ‘tal empresa tá pedindo currículo’ enquanto você tava editando os trabalhos. Gente que não teve um retorno financeiro imediato ou gente que se perder o equipamento, só Deus sabe quando vai poder ter outro.
Gente que era cobrada para cortar o cabelo ou gente também que murchava a boca nas fotos 3x4 para esconder os grandes lábios, ainda por cima gente que largava mais tarde na escola porque tava rolando um tiroteio na quebrada. Dá uma motivação chegar num evento e ver um cara de dread ou uma negona com o cabelo black vermelhão.
Nesses encontros, vivia me encontrando com Rennan Peixe e compartilhávamos esses caminhos que precisávamos percorrer. Foi ele quem me fez o convite para a exposição Olhares Negros para a Jurema Sagrada, no Museu Murillo La Greca e agora com a Afrografia, que tá rolando no Museu da Abolição e a ficha nem caiu ainda. Nessa correria, também rolaram algumas oficinas, inclusive para a criançada aqui do Alto. São esses encontros que me motivam, ver gente preta contando as histórias de nossas vivências e liturgias. São essas ações coletivas que nos movem, porque é complicado para a gente lidar sozinho com as burocracias e o tempo para montar um projeto, além de atender uns requisitos difíceis de alguns editais. Pedem um CNPJ, mas se eu tiver CNPJ,
perco a isenção em um ENEM ou o direito de um Bolsa Família, precisando botar comida na mesa.
Tô nas virações, mas não vou dizer que tá fácil não. Tá louco. Tenho uma filha de dois anos e foram minhas virações que seguraram a barra naquele período inicial, o mais complicado para um jovem casal de pais de primeira viagem. Hoje minha companheira segura as coisas com um trabalho formal e na luta para conseguir a OAB no próximo ano. Eu não quero estar minha vida toda pegando bacurau com meus equipamentos na bolsa, ligado nos carreirão de assalto. Mas quando vejo as pessoas mais antigas se emocionando por ter sido retratada de uma forma respeitosa nos museus ou minha filha ter um retrato sensível dos avós, os quais eu não tive, me motiva. Vejo meu equipamento como uma arma de mudança e se quebrar, só Deus sabe quando vou poder comprar outro. Mas Ele e minha ancestralidade sabem que eu me esforço. Eu sei que se eu parar, eu não volto, então eu continuo.
Fotos: Kayo Ferreira








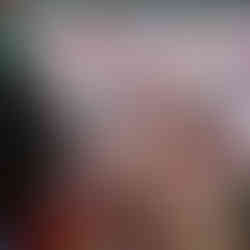



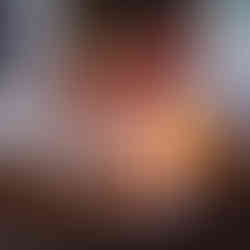








Comentários